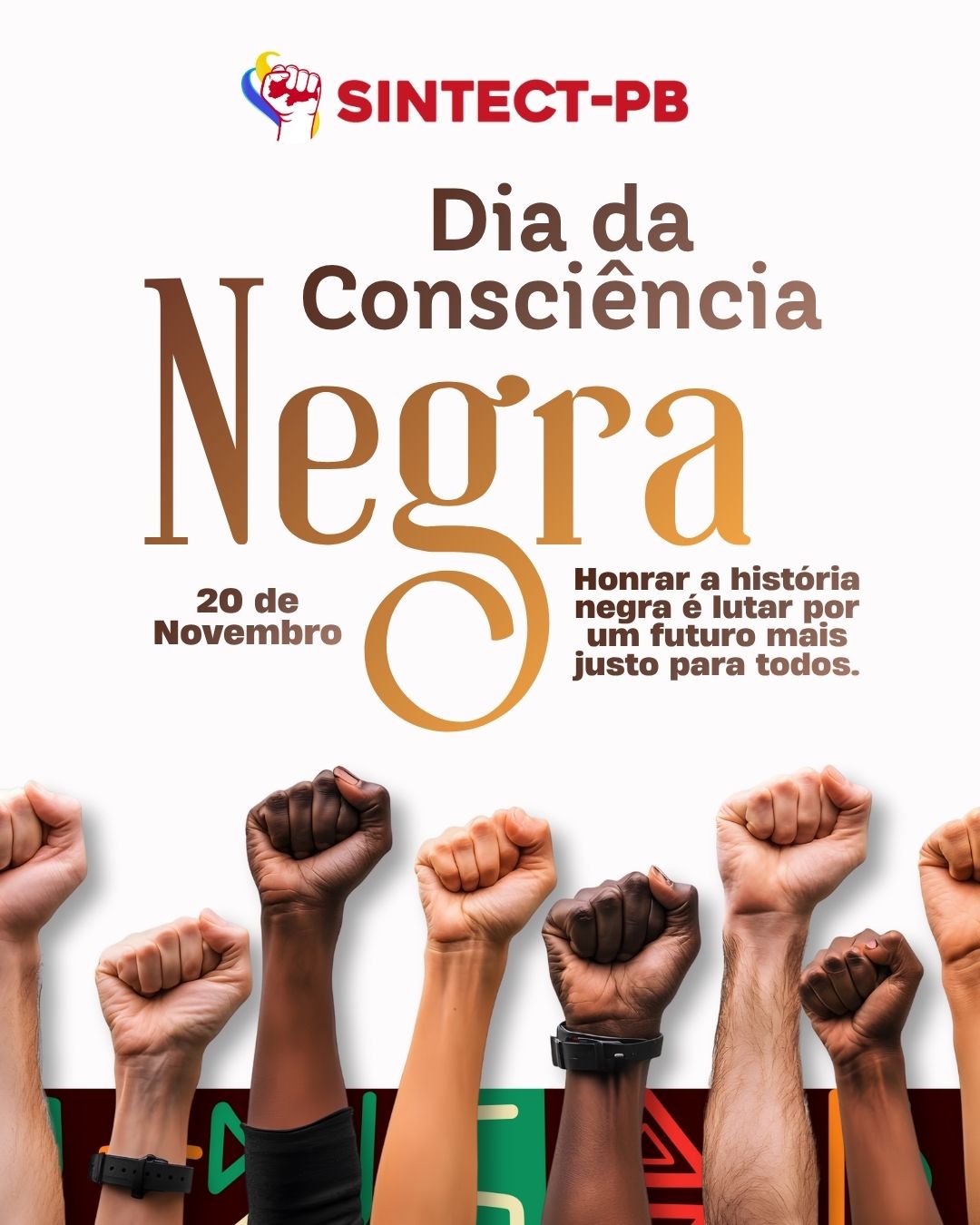
A história da Consciência Negra no Brasil se desenvolve ao longo de séculos de resistência da população negra desde o período da escravidão. A partir da década de 1530, com a colonização portuguesa, indígenas e africanos foram escravizados para sustentar a economia agrícola, especialmente nos engenhos de açúcar. A violência, a exploração extrema e a negação da humanidade desses povos marcaram mais de 300 anos de escravidão no país. Ainda no século XVII, surgiram formas organizadas de resistência, entre elas o Quilombo dos Palmares, que se destacou como o maior e mais duradouro quilombo brasileiro. Liderado por figuras como Ganga Zumba e, posteriormente, Zumbi dos Palmares, o quilombo resistiu por décadas às investidas coloniais até sua destruição em 1694. Zumbi continuou lutando até ser morto em 20 de novembro de 1695, data que se tornaria símbolo da luta antirracista.
Com o avanço do século XIX, cresceu o movimento abolicionista, impulsionado tanto por lideranças negras quanto por setores progressistas da sociedade. A pressão popular, as fugas em massa, os quilombos e as revoltas escravas enfraqueceram o sistema escravocrata, culminando na assinatura da Lei áurea (Lei nº 3.353) em 13 de maio de 1888. No entanto, a abolição ocorreu sem qualquer política de reparação ou inclusão, deixando os negros à margem da sociedade e perpetuando desigualdades que atravessam a história brasileira.
Já no século XX, movimentos culturais e políticos dedicados à valorização da identidade afro-brasileira ganharam força. Em 1971, um grupo Grupo Palmares liderado por Oliveira Silveira, em Porto Alegre, propôs que o 20 de novembro — data da morte de Zumbi — se tornasse o marco da Consciência Negra em oposição ao 13 de maio (Dia da Abolição da Escravatura).
Em 18 de junho de 1978, foi fundado o Movimento Negro Unificado (MNU) foi em 1978, com um marcante lançamento público em 7 de julho do mesmo ano, durante um ato nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo que reuniu mais de duas mil pessoas, mesmo em plena ditadura militar. Esse ato, consolidou reivindicação e ampliou a luta por direitos civis, igualdade racial e reconhecimento histórico. A partir da Constituição de 1988, que reconheceu a igualdade formal e criminalizou a discriminação racial, o combate ao racismo ganhou respaldo jurídico. Em 1989, a Lei 7.716 de 5 de janeiro (também conhecida como Lei Caó), definiu o crime de racismo e estabeleceu punições específicas. regulamentou o inciso XLII do Artigo 5º da Constituição Federal, que define o racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.
As décadas seguintes foram marcadas pela ampliação de políticas públicas voltadas à valorização da cultura negra, à memória da resistência e ao enfrentamento das desigualdades raciais. Em 2011, a Lei 12.519 instituiu oficialmente o Dia Nacional da Consciência Negra. Em 2023, a Lei 14.759 elevou o 20 de novembro à condição de feriado nacional, reforçando o compromisso do Estado com o combate ao racismo estrutural e com a promoção da igualdade.
O conceito de Consciência Negra, contudo, vai além da data comemorativa. Ele corresponde ao processo de tomada de consciência da identidade, da cultura e do valor histórico da população negra, rompendo com a lógica discriminatória que marcou sua trajetória. Inspirado em correntes como a negritude — formulada por intelectuais afro-diaspóricos como Aimé Césaire —, o termo busca recuperar a autoestima e a dignidade negadas pelo colonialismo. A consciência crítica permite compreender que o racismo não é natural, mas construído para justificar desigualdades sociais e econômicas.
Nas últimas décadas, esse debate passou a incluir a necessidade de políticas institucionais de diversidade, equidade e combate ao assédio, como as adotadas por empresas e órgãos públicos. Tais políticas buscam criar ambientes de trabalho mais inclusivos, promover ações afirmativas e valorizar a diversidade como parte da democracia e dos direitos humanos.
Equidade Racial no Trabalho: Desafio Sindical e Compromisso Permanente
Em abril de 2024, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos aprovou sua “Política Corporativa para Equidade de Gênero e Raça, Respeito e Valorização da Diversidade e Enfrentamento aos Assédios”. A partir desse momento, a empresa se comprometeu a promover um ambiente de trabalho inclusivo, com equidade racial e de gênero, e a implementar ações afirmativas para fortalecer a participação dos negros em instâncias decisórias. Essa política insere-se em um contexto mais amplo de enfrentamento ao racismo institucional e à discriminação nas relações laborais. Nesse sentido, cabe ao sindicalismo exercer papel estratégico: os sindicatos devem atuar como espaços de mobilização coletiva para monitorar a aplicação de tais normas, reivindicar a reparação das desigualdades raciais e assegurar que trabalhadores negros tenham acesso igualitário à contratação, promoção e liderança. A construção sindical antirracista fortalece a unidade da classe trabalhadora frente ao racismo que fragmenta os interesses de quem produz.
Assim, o Dia da Consciência Negra sintetiza séculos de resistência, memória e organização coletiva, reafirmando a luta contínua contra o racismo e por uma sociedade mais justa, igualitária e comprometida com a dignidade do povo negro.
Em uma sociedade estruturalmente racista, apenas não cometer atos racistas não é suficiente; é preciso uma postura ativa de combate ao racismo por meio da conscientização, do questionamento das estruturas de poder e da promoção da igualdade. O antirracismo é um compromisso contínuo de desconstrução de atitudes racistas naturalizadas e de luta por justiça, que envolve todos e não apenas pessoas negras.